Fugiu Diogo, de nação Calabar, falta de cabelo no alto da cabeça e um joelho mais grosso que outro, resultado de castigos. Fugiu Benedito, crioulo, oficial de carpina, já velho e desdentado, com cabelos brancos na cabeça. Fugiu João, de nação Angola, uns 20 anos, cego do olho esquerdo e traz cicatrizes sobre o corpo. Fugiu Catarina, de nação Congo, cozinheira, traz marcas de pegas e ganchos. Fugiu o preto José, por alcunha Caboclo, de nação Gabão, magro, feio de feições, zambo das pernas e na esquerda tem grande cicatriz que nunca sara.
Os jornais brasileiros do XIX estão repletos de anúncios como esses, que noticiam fugas de escravos. Sem distinção de sexo ou idade, tais documentos -- que de quando em quando traziam a imagem de um homem negro, carregando uma trouxa nas costas e sempre descalço (símbolo maior de sua condição escrava) – representam prova substantiva de como o cativeiro foi naturalizado no Brasil, e da maneira como a violência do sistema não assustava; ao contrário, era utilizada como forma de identificação.
E não foram apenas os anúncios de fuga que escancararam a presença escrava no país. Se neles pretendia-se descrever objetivamente o “cativo fujão”, de maneira a ajudar na recuperação; já nas inúmeras notícias de aluguel, venda, penhora ou seguro de escravos, a operação dava-se ao revés: tratava-se de exaltar as qualidades do “produto”, descrito como fiel, limpo e sem vícios; tais como comer terra, fumar tabaco, maconha, ou entregar-se à cachaça. Como se os vícios fossem da natureza, e não consequência do próprio sistema!
O fato é que nesses pequenos anúncios podem ser encontradas grandes pistas para entender como a escravidão mercantil transformou humanos em “coisas”, “bens semoventes”. E é em torno desse material que o antropólogo Gilberto Freyre se debruçou nos anos 1930. Conhecido pela originalidade de suas pesquisas, Freyre mais usou dos documentos do que os analisou com vagar. Afinal, não por acaso o intérprete introduziu o subtítulo: “tentativa de interpretação antropológica”. Esse era seu método: levantar, descrever, e transformar casos isolados em modelos ilustrativos.
E os anúncios afirmaram-se como fontes destacadas na obra do autor. A documentação lhe serviu de pista para o levantamento das diferentes procedências dos africanos e comprovação da variedade de profissões. Além do mais, o material mostrou-se apropriado para entender que se escrevia assim da maneira como se falava: “português brasileiramente”. Por fim, por meio deles era possível prever os usos do corpo escravo, de parte a parte: com as tatuagens o cativo marcava sua origem, para que ninguém a contestasse; já o senhor usava do mesmo recurso para gravar em brasa sua propriedade. Como se vê, destinos diferentes se escreviam no mesmo corpo.
Conforme mostra Alberto da Costa e Silva, em excelente prefácio para o livro O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX, recentemente reeditado, a obra nasceu de um artigo publicado na revista “Lanterna verde” em 1934, o qual resultara, por sua vez, de uma palestra de Freyre sobre o tema. Como no pensamento do antropólogo um texto puxa outro, logo viria nova conferência – sobre deformações nos corpos dos escravos fugidos – e mais outro ensaio. O livro mesmo só sairia em 1968, sem perder, porém, seu pioneirismo.
Se os anúncios já haviam sido utilizados em obras como O abolicionismo, de Joaquim Nabuco, jamais ganharam tratamento sistemático. Talvez por isso o livro de Freyre ainda cause espanto. Nele, vemos o desfile de diferentes tipos de escravos. Aí estão as descrições de escravos altivos, com rostos belos, quase esculpidos, corpos atléticos e peles a brilhar. Já as africanas mais parecem musas de ébano, com seus penteados exóticos, panos coloridos e corpos de “Vênus”. Mas que não se esqueça do outro lado: são inúmeros os cativos descritos como gagos, mancos, queimados, desdentados, feridos e por aí vamos.
Ao final do livro, ainda temos a chance de acompanhar Freyre se exercitando com imagens: ele comenta feições, adivinha desejos, testa aspirações. Mestre nos detalhes, o antropólogo não deixava nada escapar. Cada sinal se converte em pista; cada pequeno elemento tem a capacidade de iluminar vastas estruturas.
Pena é que, mesmo diante de documento tão expressivo, Freyre insista no caráter benigno da nossa escravidão. Nos prefácios que fez à obra, tendeu a obliterar o modelo ambivalente que apresentou anteriormente, em livros como Casa Grande & Senzala ou Sobrados & Mucambos, quando o “&” mostrava como a realidade era mesmo ambivalente e avessa a verdades certeiras. Se no âmbito doméstico a escravidão nos legou a mestiçagem biológica e cultural, já como sistema -- que previa a posse de um homem por outro --, não há como imaginar modelo mais violento. Aí estão os anúncios que não permitem cegueira fácil ou esquecimento seletivo.
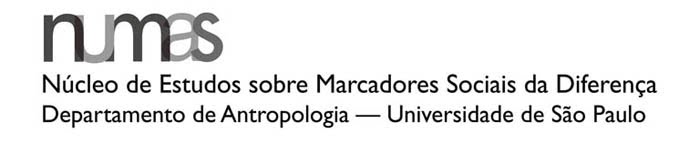.jpg)
