Seu olhar de quem não nasceu aqui muitas vezes é o mais brasileiro de todos.
Peter Fry fez 70 anos na semana passada. O Brasil tem tido o privilégio de conviver com esse antropólogo de origem britânica desde 1970, quando ele aportou em Santos para ser professor na Unicamp. Um de seus livros ganhou o título “Para inglês ver”. Tomara que continue nos vendo, nos ensinando a ver e aprendendo conosco a ver por um bom tempo.
Seu olhar de quem não nasceu aqui muitas vezes é o mais brasileiro de todos e nos força a cultivar, contra sonhos poderosos de identidade certinha e estável, tudo aquilo que nos torna diferentes, originais e imprevisíveis.
Peter se naturalizou brasileiro, escolheu ser brasileiro, mas felizmente não perdeu o espírito nômade, inquieto, de quem se sente em casa — e quem disse que casa é sempre lugar do conforto? — no deslocamento entre Europa, África e Américas, bagunçando as fronteiras artificiais (raciais, de “gênero”, religiosas e outras) que aparecem todos os dias para separar o que deveria ficar sempre misturado — uma mistura que ganha novos significados todos os dias.
Seu nomadismo não é apenas geográfico. Peter não tem medo de trocar de continentes ou de ideias. As situações mudam, e devem mudar também as ferramentas para compreendê-las, ou mesmo para percebê-las. É preciso ter coragem para dizer que estávamos equivocados no passado, que aquela maneira antiga de ver o mundo não nos serve mais, e que chegou a hora de partir para outra, para a próxima, sem apego. Tive lição prática dessa sua estratégia saudavelmente mutante durante a defesa da minha tese de doutorado (que deu origem ao livro “O mistério do samba”), quando Peter fazia parte da banca de examinadores. Eu havia atacado um de seus textos, o clássico “Feijoada e soul food”, e pensava que isso poderia causar mal-estar, ou pelo menos debate difícil, em nosso diálogo. Para minha surpresa, ele foi logo dizendo que a crítica que eu lhe fizera era procedente, e declarou que já tinha superado aquele modo de ver as coisas.
Sua curiosidade com relação ao diferente e sua disponibilidade para mudar de visão de mundo sempre que necessário se mantêm intactas nestas sete décadas de vida — é incrível ainda hoje acompanhar sua vitalidade juvenil, depois de tantas mudanças e experiências bombásticas. Desde os primeiros momentos, literalmente: quando nasceu, os campos ingleses ao redor da maternidade estavam sendo bombardeados por aviões alemães. Sua mãe tinha saúde frágil, e Peter passou sua vida em colégios internos, tendo a educação britânica mais tradicional. Entrou para Cambridge, para ser matemático. Trocou de curso.
Teve aulas, trabalhou ou teve contato próximo com alguns dos antropólogos mais importantes daquela época: Edmund Leach, Mary Douglas (que lhe ensinou a dar aulas), Jack Goody, Roger Bastide, Michel Leiris, Pierre Rivière. Por acaso foi fazer pesquisa de doutorado na então Rodésia, onde aprendeu a língua xona. Por sorte foi adotado pela turma de Max Gluckman, que se interessava pelas relações da África com a modernidade “ocidental”, em todas suas contradições. Nesse período, teve oportunidade de conhecer Moçambique, ainda colônia portuguesa, e ficou fascinado com as diferenças entre as maneiras de se pensar as raças desenvolvidas pelas colonizações britânicas e portuguesas. Não via uma como melhor que a outra: eram surpreendentemente diferentes.
Na volta para a Inglaterra, não conseguiu mais se adaptar aos tons cinzas da vida britânica. Vivia deprimido. Foi aprender português numa aldeia perdida no norte de Portugal. Então soube que a Unicamp estava contratando novos professores e se mudou para o Brasil. Aqui estudou religiões e línguas afrobrasileiras, colaborou com as primeiras experiências de imprensa gay e se mudou para o Rio, onde foi professor no Museu Nacional e do IFCS, local em que ajudou a implantar importante (também para o Brasil) programa para estudantes de países africanos de língua portuguesa. Nesse meio tempo voltou para a África, como representante da Fundação Ford no Zimbábue e em Moçambique. Ali financiou projetos de pesquisa pioneira sobre transformações políticas e culturais locais. Recentemente, no Brasil, mergulhou de forma apaixonada no debate sobre as cotas, identificando racialismo em propostas que pretendem acabar com a discriminação por raças — vários militantes prócotas passaram a tratá-lo como inimigo, quando na verdade deveriam tê-lo amigo fundamental no combate ao racismo (é muito empobrecedor dividir o mundo entre prós e contras qualquer coisa — como ensina Peter, o melhor da antropologia é consequência da crítica contra essencialismos rasteiros).
Hoje, aposentado da universidade, é um dos principais articuladores da revista virtual “Vibrant”, que traduz textos de antropólogos brasileiros para aumentar a circulação de nossas ideias planeta afora, produzindo mais diferenças de visões do/no mundo. Ufa!
Relembrei várias dessas aventuras de Peter vendo os vídeos de sua entrevista que o Cepedoc publicou online como parte do excelente projeto “Cientistas sociais de língua portuguesa — histórias de vida”. Há várias outras entrevistas — com Gilberto Velho, Boaventura de Sousa Santos, Janet Mondlane etc. — no
Lá há também uma preciosidade: a restauração do filme “Days of rest”, que Peter dirigiu em Zâmbia, em 1969, sobre membros de uma igreja protestante que hoje chamamos de neopentecostal.
Retirado do blog Conteúdo Livre
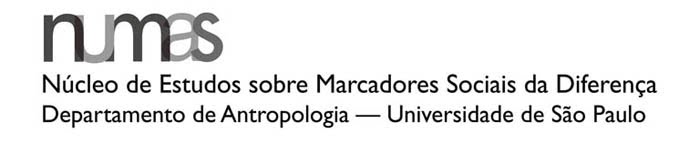.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário